O tempo ia se encarregar de provar o quanto estávamos errados
Passou quase despercebido nessa semana o trigésimo aniversário da passeata das Diretas-Já que levou milhares –sabe-se lá se não o milhão que se dizia na época- ao Vale do Anhangabaú em São Paulo, no contexto de uma das maiores campanhas cívicas que já percorreu o país.
Milhões de brasileiros saíam às ruas, em todas as capitais, dispostos a sepultar o regime militar e fazer valer seu direito de votar para presidente. Ao final, sofremos uma contundente derrota no Congresso Nacional, com a rejeição da Emenda Dante de Oliveira, no dia 25 de abril de 1984.
A eleição indireta que se seguiu, enfim, foi a primeira sem um general candidato. Foi ganha por Tancredo Neves, com o descolamento da Frente Liberal do apoio aos estertores do regime militar. O preço a pagar, no entanto, foi alto: a candidatura como vice de José Sarney, que tinha sido justamente presidente do partido que dava sustentação à ditadura. Por uma ironia do destino, foi ele quem acabou tomando posse como presidente da República.
Creio que muitas das nossas mazelas atuais, a começar pela política sem freio de alianças e o misturar indiscriminado das biografias políticas, e com elas a falta de um repúdio mais incisivo à ditadura e a consequente impunidade dos crimes contra a humanidade, podem ter se forjado nessa derrota. No fato de termos cedido e cedido assim tão rápido, sem maiores insistências, quando os líderes partidários nos disseram que as decisões se restringiriam aos gabinetes. As ruas se esvaziaram e com elas, gradativamente, muito do interesse pela política.
Eu tinha dezoito anos em 84 e nada me marcou mais nesse tempo do que a participação na campanha das Diretas-Já, seja pela empolgação de sentir parte de sua construção, seja pela frustração de vê-la fracassar diante de meus olhos.
Em 2008, lancei o romance Certas Canções (ed. 7 Letras), uma espécie de diário político-sentimental de um estudante nos anos 80. Reproduzo abaixo duas cenas do livro, que envolvem o apogeu e a queda do movimento. É a minha forma de homenagear um raro momento na política em que o povo foi convidado a participar –e lembrar das consequências causadas quando acabou desconvidado. Não se trata de um relato jornalístico, nem de uma análise política. É apenas lembrança, contaminada pela emoção. Coisa rara, mas insubstituível na política.
Capa do livro “Certas Canções” (7 Letras) – Divulgação
A páscoa judaica era comemorada há milhares de anos e eu podia me lembrar dela no ano seguinte com a reverência que merecia, sem incidir em nenhuma transgressão. Afinal, também nós fazíamos um êxodo em direção à terra prometida, que estava no entanto mais longe do que a nossas vistas podia parecer naquele momento. Bati a porta e saí sem responder à minha mãe, como se nem tivesse ouvido seu alerta. E fui descer a Brigadeiro para encontrar na São Francisco, o João, a Ana e outra centena de colegas que partiriam juntos para aquela viagem de poucos quilômetros e muitas emoções. Menos a Regina, que provavelmente se juntara a seus amigos da Psico, e acabou sumindo da minha vida antes mesmo de entrar.
No aquecimento, dentro da faculdade, nós nos vestimos para a guerra, com uma camiseta amarela, preparada no XI de Agosto: Diretas, direito nosso. Além de estar junto aos demais, todos queriam se identificar. Não eram apenas pessoas, eram centros acadêmicos, eram sindicatos, eram associações profissionais, eram cidades, bairros, comunidades de base. Era um mundaréu de gente, mas também um festival de faixas.
Nós ficamos esperando em frente ao Largo São Francisco, território livre dos estudantes segundo uma libertária lenda urbana, a passeata que iria nos abraçar. E esperamos bebendo, porque ninguém é de ferro, e lá ia eu esquecendo por completo do meu histórico clínico. Quando a multidão chegou, nos encarrilhamos a ela. Eu envolvi a Ana com o braço direito e o João com o esquerdo, ou vice-versa, e eles retribuíram alegremente também grudando-se em mim. Saímos do Largo como um monolito indestrutível, tão inquebrável como nossas crenças na vitória da liberdade. Cantávamos, pulávamos e dançávamos juntos, porque a democracia podia ser luta, mas também era festa.
Eu já estava rouco, quando, arrependido pelo gesto súbito de desobediência e rebeldia, típico de um desses arroubos da mocidade, me enfurnei em um orelhão para ligar em casa e tentar dizer, diante do barulho de um milhão de pessoas a minha volta, que não, não ia mesmo dar para voltar a tempo do jantar. Minha mãe já não estava preocupada com as tradições religiosas e familiares, mas com a minha segurança. Como boa mãe judia, ela nem precisava da propagação que parte da imprensa fazia sobre os riscos das grandes concentrações. Eu tentei acalmá-la o quanto pude, não com a minha calma, mas com a minha alegria, e foi o que lhe bastou. Não houve perigo algum. Nunca foi tão sossegado andar pelo centro de São Paulo. E nunca foi possível estar tão bem acompanhado.
Confesso que não me lembro de nenhum dos discursos que aquela frente ampla de políticos fez ao cair da noite. Já estava tão cansado da minha própria euforia, que quando o corpo parou, lá no Anhangabaú, ainda molhado pela chuva refrescante que caíra, não era possível ouvir nada mais que não fossem as batidas do coração, o que já não era pouca coisa.
Como autômatos, respondíamos já aos repetidos comandos de Osmar Santos. Esta era a palavra da hora, aquela que estava engasgada na garganta de todo mundo. Tudo o que não podia ser exigido do povo era cautela, prudência, paciência. Tinha que ser já. E mesmo o já era tarde; afinal, nos perguntávamos, até quando esperar? Eu lembro que como nós, lá em cima eles também se deram as mãos, Lula, Montoro, Ulysses, Brizola, Covas e tantos outros que mais tarde viriam a se pisar uns nos pescoços dos outros, quando aquilo que eles queriam juntos finalmente vingou. Aquele era, portanto, um momento especial, tão especial que nunca mais se repetiu. O momento era de alegria, mas também de catarse. Quando o silêncio se fazia por instantes, não mais do que rápidos e fugazes instantes, logo voltávamos a cantar a paródia daquele bordão esportivo que, no final do refrão, mandava o adversário para a puta que o pariu. Nós queríamos eleger o presidente do Brasil, essa era a rima rica –mas também havia muita gente na fila para ser endereçada àquele destino, e cada um acrescentava à lista o seu inimigo preferido.
Aplaudíamos a todos os nomes. Ninguém que pudesse estar ao nosso lado, nem que fosse a partir daquela tarde, e eram vários que aproveitavam esta oportunidade de se achegar, podia ser vaiado. Nossos artistas estavam lá. Milton, Chico, Caetano e a Fafá de Belém, que se transformaria na musa das diretas. E depois uma presença constante em homenagens fúnebres, como aquela que emocionava a todos, dedicada a Teotônio Vilela. O menestrel das Alagoas ingressou tarde na luta pela redemocratização, mas envolveu-se de corpo e alma tão profundamente que acabou virando o seu símbolo, magistralmente retratado pelo fino traço do Henfil.
O colorido do vale era impressionante. Mas as viúvas dos porões só se preocupavam com bandeiras vermelhas. Romeu Tuma era um desses que parecia destacado para contá-las e depois alertar a sociedade de seu perigo. Eles devem ter se arrepiado ao ver aquele povo cantando o hino nacional, ao mesmo tempo em que desfraldavam foices e martelos, sem qualquer baderna. Verdade que a apropriação indébita que a ditadura fez dos símbolos nacionais provocara em muitos aflição às coisas da pátria. Hastear bandeira, nas escolas, era uma atividade obrigatória, acompanhada de uma fila militar. E estudar educação, moral e cívica ou organização, social e política brasileira, significava, quase sempre, reverenciar autoridades verde-olivas. Mas naqueles dias de 84, até os mais resistentes, aqueles que só ouviam a Internacional desde criancinha, mesmo estes se renderam aos tortuosos e tonitruantes versos de Duque Estrada, porque o hino era nosso, muito antes de ser deles.
Mas eles, eles teriam vida curta. Porque nós estávamos na rua. E isso bastava. Estávamos abraçados, sorridentes, chorosos e suados. Carregávamos mais certezas do que cabia em nossos corações e mentes. Eu, a Ana e João passamos abraçados por mais tempo do que podíamos imaginar naquele dia, como já havíamos estado na noite anterior. Ninguém de nós duvidava que íamos vencer. Que construiríamos uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária, mais democrática e tantos outros mais que o futuro podia nos reservar de melhor. E que seríamos amigos inseparáveis, forjados na luta, no carinho, no respeito e mais do que tudo, no amor.
Mas o tempo ia se encarregar de provar o quanto estávamos errados.
………………………………………………………………………………………………………….
Caía a tarde feito viaduto e nós fomos à praça da Sé.
Um grupo de vinte ou trinta estudantes que haviam passado o dia no XI de Agosto em vigília cívica. Cívica e líquida. Depois de já estarmos calibrados, com um tanto de pinga outro tanto de cerveja, seguimos em romaria à nossa Sé. Para acompanhar ao vivo a votação das diretas. Ao vivo, naquele dia, queria dizer que alguém estava ouvindo pelo rádio e afixando pequenas plaquetas de sim e não no imenso outdoor levantado na praça, com o nome de todos os deputados. Sim, porque o governo, o Congresso, os militares, eles enfim, não permitiram que aquela histórica sessão fosse transmitida pela televisão.
Nós devíamos ter imaginado que se eles queriam ficar tão escondidos, alguma coisa não estava cheirando bem. Mas éramos estudantes, jovens e otimistas e a esperança de que pudéssemos fazer diferença não nos permitia imaginar que a noite é que ia nos cair como um viaduto. E que logo mais seríamos nós mesmos os bêbados trajando luto.
Os indícios estavam todos lá, prontos para alguém dizer ‘eu não avisei’? A Folha, que líamos diariamente com um apetite voraz, encapada com uma ousada tarja amarela em sinal de seu engajamento, já antevia que a coisa não ia ser nada fácil. Relatava com precisão as manobras diversionistas dos deputados da situação e as estratégias palacianas para isolar o Distrito Federal. Que eu me lembre, foi o único estado de sítio que presenciei. Brasília foi cercada por policiais e militares para impedir que ônibus pudessem entrar na cidade, trazendo pessoas que pretendiam acompanhar de perto a votação. E naquela noite de outono, o general Newton Cruz dava tresloucadas ordens para que os cavalos fossem de encontro aos populares. Afinal, a repressão tem de ir aonde o povo está.
Mas nós ainda tínhamos esperança de que na hora H muitos fossem ficar com vergonha de votar não e assim podíamos ganhar. E de fato estávamos certos. Muitos tiveram vergonha de votar não e simplesmente não compareceram, o que, na prática, dava no mesmo. Thales Ramalho, que ainda não era um convertido, não veio. Paulo Maluf, o pretenso destinatário da derrota, também não deu às caras. Mas José Sarney estava lá. Era o chefe da tropa inimiga, votou não e arregimentou sua infantaria para votar não junto com ele. Mal sabia que seria o verdadeiro herdeiro do insucesso das diretas por obra e graça do destino. Ou será que ele sabia?
Eram estudantes, trabalhadores, ambulantes e vagabundos que tomavam a praça. Alegres por estar ali, e um pouco também pela bebida, nós cumprimentávamos com entusiasmo a conhecidos e desconhecidos. Enfim, todos iguais nesta noite.
A votação corria solta e nós ganhávamos de lavada. Era sim para cá, sim para lá, o sim estava arrebentando. E a cada sim, nós gritávamos enlouquecidos. Perguntávamos uns aos outros de quem era aquele sim e muitas vezes sorrimos felizes de surpresa. Ele também? Meu Deus, vamos ganhar. E de fato ganhamos. Mas não com o placar necessário. Era mais ou menos assim, como se tivéssemos chegado na final precisando ganhar de 6×0. Mas do outro lado não estava o Peru de 1978.
Aprendemos o quórum qualificado nas aulas de direito constitucional e por isso nosso entusiasmo não poderia ter sido assim insensato. Para mudar a Constituição eram precisos 2/3 dos votos e ao final faltaram pouco mais de vinte. Era pouco, muito pouco, perto daquele resultado tão expressivo. E muitos dos que estavam na praça da Sé naquela noite fria não entendiam muito bem como é que ganhando de tanto, não chegamos lá.
A decepção foi generalizada, porque não deu e mais ainda porque faltou pouco. Era incompreensível que tantos parlamentares pudessem ficar insensíveis àquela esperança toda, surdos ao apelo do povo. Mas isso não ia ficar assim, os nomes deles iam ficar marcados para sempre. Eles são políticos e iriam precisar do voto das pessoas que estavam naquela e nas outras praças do país. E não teriam nunca mais. Nós vaticinávamos, mais cedo mais tarde a ditadura cai, nem que seja de madura. E essas pessoas que votaram não ou não votaram estarão mortos para a política. Mais uma vez, como se viu, estávamos errados. O Brasil não é tão dramático assim. Sempre há uma segunda chance e, com um pouquinho de vento, as nuvens mudam de posição, como se orgulhava de concluir o deputado banqueiro Magalhães Pinto. Que por acaso também estava do lado de lá.
Naquela noite muitos não estavam querendo esperar tanto tempo pela vingança. Havia um descontentamento tal, que algumas pessoas chegaram a pular de raiva, bater nas muretas, arremessar o que tinham às suas mãos para lugar nenhum, chutar latas vazias e um ou outro carro estacionado nas redondezas. A patrulha cívica, no entanto, foi tão mais vigilante que não deixou que a coisa desandasse num estrondoso quebra-quebra que era o medo generalizado. Eu vi muita gente chorando, muita gente abraçada, muita gente indignada. Mas a revolta durou pouco e a tristeza foi a marca registrada daquela derrota.
Nós ficamos até o fim e um pouco mais depois do fim porque faltou coragem de ir embora e dar por encerrada a noite. E também porque ainda não estávamos de ressaca. Bebíamos mais pinga, pois alguém se lembrou de trazer uma garrafa debaixo da camisa, provavelmente pensando em comemorar a vitória. Fazíamos rimas pobres ou improváveis enquanto dançávamos e cantávamos numa histeria incontida, Pinga pura derruba a ditadura, pinga com limão, derruba o general, até que a graça acabasse e caíssemos na real.
Mais uma vez eu voltei a pé, subindo a Brigadeiro até a Paulista. Queria ficar só com a minha tristeza. Tomar um pouco de ar. Desintoxicar. E chegar mais tarde, para não ter que encontrar o meu pai, com aquela cara de ‘eu disse, eu falei prá você não ir’. Tudo menos isso. Não queria que ele falasse esta noite que eu era muito jovem e que ainda tinha muito a aprender na vida. Eu era muito jovem e por isso ele tinha muito a aprender comigo. Eu percorri os últimos quinhentos metros para casa já sob uma garoa fina e gélida, ensaiando uma resposta à altura para a pergunta que não veio. Amanhã há de ser outro dia. Quando cheguei de volta, já estavam todos dormindo em casa. Ninguém me esperava. E ainda mais entristecido, fui para a cama chorar sozinho.
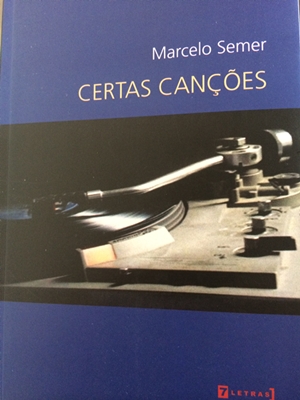
Comentários fechados.