Livro de Bruna Angotti analisa surgimento dos presídios
femininos
femininos
A campanha “Estou presa, continuo mulher” (doação de
roupas íntimas e absorventes a mulheres em situação de prisão) revelou o
descaso do Estado com a saúde das detentas e descortinou os graves problemas
causados pela enorme expansão do encarceramento feminino, em que se perpetua da
criminalização da pobreza.
roupas íntimas e absorventes a mulheres em situação de prisão) revelou o
descaso do Estado com a saúde das detentas e descortinou os graves problemas
causados pela enorme expansão do encarceramento feminino, em que se perpetua da
criminalização da pobreza.
Com o enrijecimento das leis sobre entorpecentes, enfim, a
questão deixou de ser periférica no sistema penitenciário, já que mulheres são
parte expressiva do exército de funcionários da microtraficância.
questão deixou de ser periférica no sistema penitenciário, já que mulheres são
parte expressiva do exército de funcionários da microtraficância.
Trata-se de uma ótima oportunidade para conhecer a
monografia de Bruna Angotti: “Entre
as Leis da Ciência, do Estado e de Deus (o surgimento dos presídios femininos
no Brasil) Ed. IBCCrim”.
monografia de Bruna Angotti: “Entre
as Leis da Ciência, do Estado e de Deus (o surgimento dos presídios femininos
no Brasil) Ed. IBCCrim”.
Não faltam boas referências acadêmicas à obra, que foi
fruto de dissertação de mestrado aprovada na área de Antropologia Social da USP
e ainda venceu o concurso de monografias do Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais. Mas o texto é fluente e não cai no academicismo que impeça a leitura
pelo leigo.
fruto de dissertação de mestrado aprovada na área de Antropologia Social da USP
e ainda venceu o concurso de monografias do Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais. Mas o texto é fluente e não cai no academicismo que impeça a leitura
pelo leigo.
Acompanhado de uma profunda pesquisa histórica no interior
do sistema penitenciário, Bruna demonstra como a pretendida reeducação, de
fundo moralista, se antagonizava com as necessidades sociais –preparar a mulher
para a vida doméstica no exato momento de uma expansão fabril e aumento da participação
feminina no mercado de trabalho. E como a ausência de enfrentamento da
vulnerabilidade vem contribuindo até hoje para frustrar a reinserção social.
do sistema penitenciário, Bruna demonstra como a pretendida reeducação, de
fundo moralista, se antagonizava com as necessidades sociais –preparar a mulher
para a vida doméstica no exato momento de uma expansão fabril e aumento da participação
feminina no mercado de trabalho. E como a ausência de enfrentamento da
vulnerabilidade vem contribuindo até hoje para frustrar a reinserção social.
O livro enfoca preferencialmente as décadas de 1930 e 40,
quando do surgimento dos primeiros presídios femininos no país (Reformatório de
Mulheres em Porto Alegre, 1937; Presídio Feminino em São Paulo, 1941; e
Penitenciária do Distrito Federal, no Rio, em 1942), relatando o esforço dos
penitenciaristas em produzir uma certa humanização nos cárceres, que
acompanhasse a modernidade científica
da época.
quando do surgimento dos primeiros presídios femininos no país (Reformatório de
Mulheres em Porto Alegre, 1937; Presídio Feminino em São Paulo, 1941; e
Penitenciária do Distrito Federal, no Rio, em 1942), relatando o esforço dos
penitenciaristas em produzir uma certa humanização nos cárceres, que
acompanhasse a modernidade científica
da época.
Esse é também o momento de criação do novo Código Penal,
no qual se produz o encontro de duas tendências aparentemente contrapostas,
como o positivismo naturalista de Ferri e Lombroso e o liberalismo da escola
clássica.
no qual se produz o encontro de duas tendências aparentemente contrapostas,
como o positivismo naturalista de Ferri e Lombroso e o liberalismo da escola
clássica.
Os penitenciaristas queriam cumprir as diretrizes da
Constituição de 1824, que extirpou penas cruéis, e exigia “cadeias seguras,
limpas e bem arejadas” e ao mesmo tempo ingressar na vanguarda do novo
pensamento que vinha da Itália.
Constituição de 1824, que extirpou penas cruéis, e exigia “cadeias seguras,
limpas e bem arejadas” e ao mesmo tempo ingressar na vanguarda do novo
pensamento que vinha da Itália.
A humanização acabou por seguir no esteio desse
pensamento positivista que entendia a necessidade absoluta de cárceres
distintos, inclusive pelo perigo do contato com os homens, dada a perversa capacidade
que a mulher tinha de influenciá-los ou torná-los revoltosos.
pensamento positivista que entendia a necessidade absoluta de cárceres
distintos, inclusive pelo perigo do contato com os homens, dada a perversa capacidade
que a mulher tinha de influenciá-los ou torná-los revoltosos.
Ainda assim, a improvisação guiou a administração nos
primeiros estabelecimentos –como o do presídio paulista, construído no espaço
dedicado aos diretores da Penitenciária masculina.
primeiros estabelecimentos –como o do presídio paulista, construído no espaço
dedicado aos diretores da Penitenciária masculina.
A monografia nos delicia com passagens de Lombroso,
paradigma da época para a compreensão da mulher delinquente, que se revelaram puras
demonstrações de preconceito: “a criminosa é fraca em sentimentos maternais”, “seu
amor por exercícios violentos e mesmo as roupas se assemelham aos homens”; “toda
mulher é organicamente monogâmica e frígida”.
paradigma da época para a compreensão da mulher delinquente, que se revelaram puras
demonstrações de preconceito: “a criminosa é fraca em sentimentos maternais”, “seu
amor por exercícios violentos e mesmo as roupas se assemelham aos homens”; “toda
mulher é organicamente monogâmica e frígida”.
Inescondível o vínculo que para os positivistas ligava a
“delinquência feminina” a atos de expressão sexual. Não à toa, entre as
categorias que distinguiam a suposta “mulher honesta” da “criminosa habitual”, Lombroso
situava a prostituta –um espécime de mulher “primitiva”.
“delinquência feminina” a atos de expressão sexual. Não à toa, entre as
categorias que distinguiam a suposta “mulher honesta” da “criminosa habitual”, Lombroso
situava a prostituta –um espécime de mulher “primitiva”.
O livro narra muitas contradições que se revelaram neste
processo de dita humanização.
processo de dita humanização.
De um lado, ideias que vinham para excluir o sentido de
vingança da pena, como o fim dos uniformes zebrados, dos números estampados nas
roupas, e na identificação pela matrícula de sentenciados; de outro, a
administração dos primeiros presídios inteiramente a cargo da Congregação de
Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor D’Angers, ampliando as características
de instituição total, como a uniformização rígida de roupas, penteados e
condutas, de forma a anular por completo a identidade das presas.
vingança da pena, como o fim dos uniformes zebrados, dos números estampados nas
roupas, e na identificação pela matrícula de sentenciados; de outro, a
administração dos primeiros presídios inteiramente a cargo da Congregação de
Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor D’Angers, ampliando as características
de instituição total, como a uniformização rígida de roupas, penteados e
condutas, de forma a anular por completo a identidade das presas.
De quebra, um rompimento profundo na nascente noção de
estado laico, com a incorporação, na rotina de disciplina, de momentos de
saudação a Deus e orações coletivas.
estado laico, com a incorporação, na rotina de disciplina, de momentos de
saudação a Deus e orações coletivas.
O livro tem, ainda, passagens ilustrativas que ensinam muito
sobre o presente.
sobre o presente.
Como, por exemplo, quando situa a repressão ao
alcoolismo: “Fonte de risco para a ordem pública, o alcoolismo preocupava as
autoridades policiais, que buscavam contê-lo por meio do aprisionamento dos
ébrios” –cerca de 1/3 das mulheres detidas, no começo da década de 40, ingressaram
nas delegacias por alcoolismo, que não raro estava associado a outras fontes de
detenção feminina, como a desordem, o
escândalo e a vadiagem.
alcoolismo: “Fonte de risco para a ordem pública, o alcoolismo preocupava as
autoridades policiais, que buscavam contê-lo por meio do aprisionamento dos
ébrios” –cerca de 1/3 das mulheres detidas, no começo da década de 40, ingressaram
nas delegacias por alcoolismo, que não raro estava associado a outras fontes de
detenção feminina, como a desordem, o
escândalo e a vadiagem.
Fruto do pensamento higienista, a ideia recorrente de
que, estando o alcoolismo associado à degenerescência, a necessidade de combate
ao vício tornara-se uma premente questão de saúde pública, a ser “urgentemente
controlada e resolvida”.
que, estando o alcoolismo associado à degenerescência, a necessidade de combate
ao vício tornara-se uma premente questão de saúde pública, a ser “urgentemente
controlada e resolvida”.
A forma de “controlar e resolver urgentemente” não é nada
estranha a quem habita uma metrópole nos dias de hoje: a internação.
estranha a quem habita uma metrópole nos dias de hoje: a internação.
De acordo com a explicação de Olívia Maria Gomes da Cunha:
“estes indivíduos nocivos são, no entanto, na maioria das vezes, intocáveis
pelas malhas da polícia ou da justiça, em seus comportamentos nem sempre
criminalizáveis. Necessário, assim, para a defesa da sociedade, definir para os
mesmos uma instância legal e legitimada de exclusão e controle: a medicina
mental se encarrega de ocupar esse espaço”.
“estes indivíduos nocivos são, no entanto, na maioria das vezes, intocáveis
pelas malhas da polícia ou da justiça, em seus comportamentos nem sempre
criminalizáveis. Necessário, assim, para a defesa da sociedade, definir para os
mesmos uma instância legal e legitimada de exclusão e controle: a medicina
mental se encarrega de ocupar esse espaço”.
Difícil não comparar com a forma como se tratam usuários
de crack nas grandes cidades, com a força policial e o empenho pela internação compulsória. Para nosso
desagrado, todavia, a experiência nos mostra que a repressão no binômio
cadeia-internação, que já ocorreu com alcóolatras, em nada diminuiu os níveis
de consumo no país.
de crack nas grandes cidades, com a força policial e o empenho pela internação compulsória. Para nosso
desagrado, todavia, a experiência nos mostra que a repressão no binômio
cadeia-internação, que já ocorreu com alcóolatras, em nada diminuiu os níveis
de consumo no país.
Trabalhando com categorias de antropologia, a autora
procura mostrar a ideia que está por trás do padrão de “dever ser” exigido da
mulher e consequentemente seu caráter desviante. Em questão, quase sempre a
ideia de inferioridade, docilidade e submissão, na qual se insere a negação da
sexualidade da mulher.
procura mostrar a ideia que está por trás do padrão de “dever ser” exigido da
mulher e consequentemente seu caráter desviante. Em questão, quase sempre a
ideia de inferioridade, docilidade e submissão, na qual se insere a negação da
sexualidade da mulher.
Tipo ideal de ser doméstico, a repressão sobre a mulher
se dá quanto mais aumenta sua participação no espaço público –o que aprofunda o
critério seletivo de criminalização. A urbanização e a progressiva destruição
de cortiços acabou fazendo com que a população mais pobre se utilizasse com
frequência da rua como seu espaço de lazer, ficando, portanto, muito mais
exposta à fiscalização.
se dá quanto mais aumenta sua participação no espaço público –o que aprofunda o
critério seletivo de criminalização. A urbanização e a progressiva destruição
de cortiços acabou fazendo com que a população mais pobre se utilizasse com
frequência da rua como seu espaço de lazer, ficando, portanto, muito mais
exposta à fiscalização.
Essa distinção se fazia ainda mais visível no caso da
prostituição, diante da separação entre as profissionais de cabaré (aceitas pela
sociedade como um mal necessário) e a forte repressão ao baixo meretrício de
rua.
prostituição, diante da separação entre as profissionais de cabaré (aceitas pela
sociedade como um mal necessário) e a forte repressão ao baixo meretrício de
rua.
O caráter “doméstico” da mulher chegou, inclusive, a ser
importante referência legislativa: enquanto os reclusos tinham direito a
trabalho externo, este era proibido para as mulheres presas até 1977.
importante referência legislativa: enquanto os reclusos tinham direito a
trabalho externo, este era proibido para as mulheres presas até 1977.
Pensando criminalização e ressocialização desta forma, o
resultado não poderia mesmo ser alvissareiro.
resultado não poderia mesmo ser alvissareiro.
Como aponta a autora, em suas conclusões, “a proposta de
reeducação e recuperação moral das detentas para a sua reinserção na sociedade
não possibilitou uma real transformação social, capaz de retirar essas mulheres
das condições de subordinação e precariedade que as tornavam vulneráveis e
expostas aos olhos da justiça criminal”.
reeducação e recuperação moral das detentas para a sua reinserção na sociedade
não possibilitou uma real transformação social, capaz de retirar essas mulheres
das condições de subordinação e precariedade que as tornavam vulneráveis e
expostas aos olhos da justiça criminal”.
O estudo é rico em arquivos extraídos das penitenciárias,
estatísticas de prisões, relatos do cotidiano prisional e serve como um
excelente ponto de partida para outras pesquisas na área.
estatísticas de prisões, relatos do cotidiano prisional e serve como um
excelente ponto de partida para outras pesquisas na área.
Afinal, a ideia expressada em 1924 por Cândido Mendes de
Almeida Filho, de que “o sistema penitenciário brasileiro era vergonhoso”, não
está muito distante da realidade de hoje, quase um século depois.
Almeida Filho, de que “o sistema penitenciário brasileiro era vergonhoso”, não
está muito distante da realidade de hoje, quase um século depois.

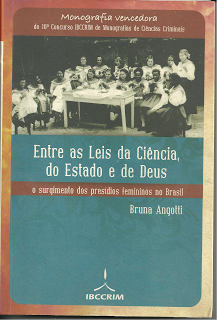
Comentários fechados.